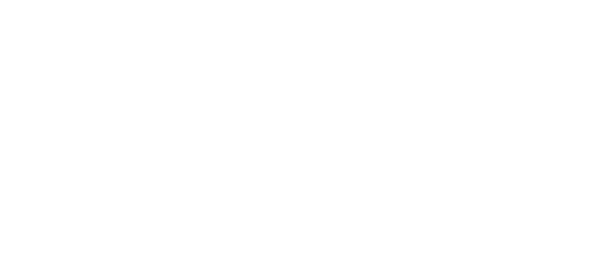UM ÚLTIMO TRABALHO PARA TODOS: ATIVISTAS, OCUPANTES E A REINVENÇÃO DA VELHICE EM SÃO PAULO
Ao longo desse capítulo, percorri as táticas adotadas pelos participantes da pesquisa para “voltar à ativa” já em modelos informais e não remunerados aos quais o empreendedorismo e o voluntariado atendem particularmente com precisão. A partir delas, seria possível propor que esses idosos se empreguem na viabilização e manutenção da sociedade de todas as idades como desenhada pela política de Envelhecimento Ativo (WHO, 2002, 2005). Além disso, esse idosos também estariam a serviço da manutenção da identidade de São Paulo onde, como apontado, a inatividade é associada à falta de caráter – o que significa dizer, em contrapartida, que essa produtividade funciona como lastro e está implicada na própria legitimação e permanência desses idosos como cidadãos da cidade. Subjacente a esses trabalhos está, entretanto, um outro.
Ao se engajarem em atividades relacionadas ao aprendizado de habilidades direcionadas ao empreendedorismo, ao autocuidado ou ao voluntariado, esses idosos marcam um território e tratam de expandi-lo, dando visibilidade à velhice – seja na ocupação de espaços na cidade ou no compartilhamento de conteúdos em redes sociais e no WhatsApp que provam essa disposição e competência para a produtividade. Ao fazê-lo, eles desafiam os limites impostos pela idade e essa é a grande reinvenção partilhada pelos participantes da pesquisa.
Como propõe Bourdieu (1993), o que há de menos importante na definição da juventude e da velhice é a idade cronológica. É o sistema classificatório que elas estruturam, entretanto, que estabelecem expectativas sociais, permissões e privilégios que as colocam em disputa. Neste sentido, a construção cultural de ambas estabelece, em uma sociedade, quais faixas etárias devem e podem fazer o que, de que forma, quando e onde. É nesta perspectiva que, ao ocuparem todas as oportunidades de atividades abertas à Terceira Idade, além de expandirem eles próprios essa oferta, os participantes da pesquisa estão trabalhando contra essa estrutura em um confronto direto com o idadismo e com o estigma do aposentado, historicamente construído na sociedade brasileira como aquele inativo, incapaz e dependente (DEBERT, 1997) – cujo fim não pode ser outro senão o confinamento no aposento já como ônus para a família, um outro preconceito infundado visto que, como apontado nessa tese, muitos desses idosos aposentados continuam à frente da manutenção da família.
Nem todos os participantes da pesquisa têm essa consciência. Enquanto aqueles envolvidos com o empreendedorismo assumem uma postura de ativismo e a narrativa de agentes transformadores do mundo (e especificamente dos estereótipos e restrições impostos à velhice), outros estão simplesmente vivendo, preenchendo o tempo com propósito e reestabelecendo a rotina e sociabilidade perdidas com a aposentadoria. Isso não torna sua contribuição menos importante.
Ao contrário, enquanto aqueles abrem caminhos e expandem territórios, esses tratam de ocupá-los e mantê-los. Nessa sinergia, é fundamental reconhecer a importância dos grupos de WhatsApp e dos idosos no papel de curadores e divulgadores das oportunidades que se abrem à Terceira Idade. Turbinados pela comunicação em rede viabilizada pelos smartphones, ativistas e ocupantes trabalham juntos, desafiando o sistema de moralidades que enquadra a velhice. É verdade que, neste trabalho, esses idosos se enquadram eles próprios na posição de protagonistas como demandada pela política de Envelhecimento Ativo (WHO 2002, 2005). Entretanto, como elucidado, esses idosos não querem mais trabalhar para os outros. Por isso, seu esforço não é visando a sociedade de todas as idades. Acima disso, eles trabalham para si e para seus pares, para otimização de sua experiência de envelhecimento, considerando suas necessidades, mas também, e principalmente, seus desejos. É nessa jornada diária de atividades que, juntos, ocupam-se de tornar a velhice um mundo habitável e, por fim, produtivo – já que esses idosos se reconhecem no fazer, associando produtividade com utilidade, sendo ambas mobilizadas para obtenção de dignidade e respeito, cujo reconhecimento lhes (re)credencia para a vida em sociedade e para o consumo da cidade. Como sujeitos, esse é o propósito que norteia suas práticas, já orientadas para o presente e para o viver fazendo aqui e agora.
É justamente por se reconhecerem como protagonistas-sujeitos dessas táticas que se faz necessário, por fim, retomar o assujeitamento operado na filiação ao discurso a serviço do campo das estratégias (DE CERTEAU, 2014). Esse é o ponto de partida para a articulação das conclusões finais dessa tese: o protagonismo, como experimentado pelos participantes da pesquisa, dá-se no encontro inebriante entre um dever e um querer.